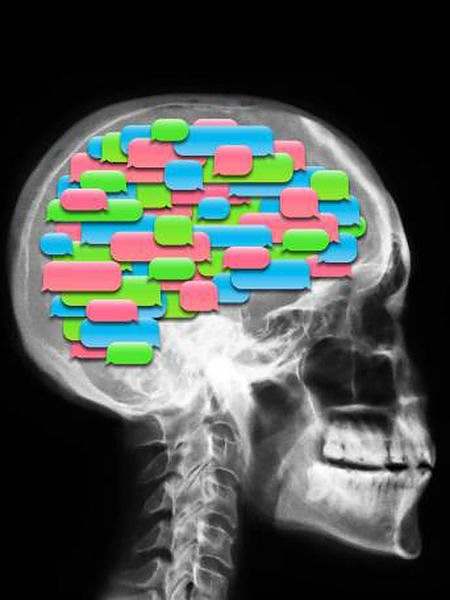Há 2.500 anos, enquanto os babilônios tomavam Jerusalém, o reino de Wu capitaneado por Sun Tzu esmagava as forças de Chu e Tales de Mileto previa um eclipse, um jovem discípulo de Pitágoras chamado Alcmeão de Crotona propôs pela primeira vez que o cérebro era a sede da mente. A ideia esfriou mais tarde porque Aristóteles determinou que a sede da mente era o coração, e que o cérebro era um mero sistema para resfriar o sangue. Hoje sabemos que Alcmeão estava certo. Mas, como Aristóteles, continuamos ignorando como o cérebro funciona e, portanto, em que consiste a natureza humana.
Ninguém nega que entender o cérebro é um dos grandes desafios da ciência e que a pesquisa tem sido intensa, brilhante e abundante. Sabemos hoje que a chave da nossa mente é a conectividade entre os neurônios, a geometria de seus circuitos. Conhecemos os intrincados mecanismos pelos quais um neurônio decide enviar, através de seu axônio (seu output), o resultado de um complexo cálculo que fez integrando as informações de seus 10.000 dendritos (seu input). Entendemos os reforços dessas conexões (sinapses) que estão na base da nossa memória e usamos as ondas de alto nível, resultantes da atividade de milhões de neurônios, para diagnosticar doenças mentais e pesquisar o grau de consciência dos voluntários. Porém, continuamos sem entender como o cérebro gera a mente. Quem disser o contrário é um ignorante ou faz parte de uma trama criminosa.
Apesar das repetidas e audaciosas tentativas de associar a especificidade humana a uma porção do cérebro radicalmente nova, com uma arquitetura original e inusitada na história do planeta, os dados nos mostram teimosamente que todas as nossas peculiaridades —linguagem, matemática, moralidade e justiça, artes e ciências— estão enraizadas nas profundezas abissais da evolução animal, um processo que começou há 600 milhões de anos com o surgimento das esponjas e águas-vivas.
Foram as águas-vivas, precisamente, que inventaram os olhos. Existe um gene chamado PAX6 que se ocupa de desenhar o olho primitivo desses cnidários e sua conexão com os neurônios primitivos deles. Esse mesmo gene (inicialmente descoberto na mosca), também é responsável pelo desenho do olho humano e de suas leves mutações, que causam doenças congênitas, como a aniridia, ou ausência de íris; além de outra dúzia de anomalias no desenvolvimento do olho e de seus neurônios associados. Em um sentido genético profundo, nossos olhos e nosso cérebro visual tiveram origem nas águas-vivas há 600 milhões de anos.
E isso é apenas o começo da longa, longa história da nossa conexão com as origens da vida animal. A partir do lobo óptico dos animais primitivos, que é precisamente o domínio de ação do PAX6, vem o nosso cérebro médio (ou mesencéfalo), essencial para a visão, a audição, a regulação da temperatura corporal, o controle dos movimentos e do ciclo de sono e vigília.
Outro dos nossos sentidos, o olfato, também ancora suas origens na noite dos tempos da vida animal. Ele vem do nosso córtex, a camada mais externa do cérebro, que nas espécies mais inteligentes —nós, os golfinhos, as baleias, os elefantes— cresceu tanto que não caberia no crânio se não tivesse se enrugado para produzir essa fealdade abjeta que, compreensivelmente, sentimos relutância em aceitar como nossa mente. E, no entanto, ela o é.
Do córtex e seus associados, esses frutos evolutivos do ancestral do nosso cérebro olfativo, emanam todas as assombrosas aptidões da mente humana, tudo o que nos torna tão diferentes e de que tanto nos orgulhamos. Essa camada externa e antiestética do cérebro gera —ou, mais precisamente, encarna— nossas sensações do mundo exterior, nossas ordens voluntárias para mexer a boca ou os braços e um enxame de “áreas de associação” onde os sentidos, as lembranças e os pensamentos são integrados para produzir uma cena consciente única, o tecido do qual nossa experiência é feita.
Todo o cérebro é um enigma, mas se fosse preciso escolher um problema supremo nessa floresta, seria o mistério da consciência. E há uma história científica que precisa ser contada aqui. Quando adolescente, um dos grandes cientistas do século XX, Francis Crick, se preocupava com o fato de que, quando se tornasse adulto, tudo já teria sido descoberto. Quando cresceu, a primeira missão do jovem Crick foi projetar minas contra os submarinos alemães. Depois da guerra, no entanto, Crick parou para pensar que havia grandes problemas a resolver na ciência. Decidiu que os enigmas essenciais eram dois: a fronteira entre o vivo e o inerte e a fronteira entre o consciente e o inconsciente. Seu primeiro enigma foi resolvido satisfatoriamente com a dupla hélice de DNA, que descobriu com James Watson em 1953. E o segundo nunca chegou a averiguar —isso teria feito dele o maior cientista da história—, mas foi capaz de estimular pesquisadores mais jovens e os gestores dos financiamentos da ciência norte-americana para que se concentrassem nesse pináculo pendente do conhecimento. O principal de seus colaboradores nessa exploração foi Christof Koch, atual diretor do Instituto Allen de Biociência, em Seattle.
Quinze anos após a morte de Crick, Koch continua cativado pelo problema da consciência. Como a atividade dos neurônios individuais, e dos circuitos formado por milhares ou milhões deles, produz a sensação única e global de ser consciente, de ter acordado, de estar vivo? Essa convicção de que somos diferentes de uma água-viva, de que somos uma entidade transcendente, capaz de compreender o mundo e distinta de todas as anteriores. Vejamos o estado atual dessa linha de pesquisa crucial. É ciência básica. As aplicações sempre vêm depois de um profundo entendimento, como demonstra a história da ciência.
“A consciência é tudo o que você experimenta”, escreve Koch. “É a canção que se repete na sua cabeça, a doçura de uma mousse de chocolate, o latejar de uma dor de dente, o amor feroz por seu filho e o discernimento amargo de que, no final, todos esses sentimentos acabarão”. Há dois campos científicos que aspiram a competir com os poetas na interpretação do mundo: a cosmologia e a neurologia. Tem toda a lógica. Uma boa equação sintetiza uma imensa quantidade de dados em um centímetro quadrado de papel, assim como um bom verso.
Para filósofos como Daniel Dennett, o problema da consciência é inseparável do enigma dos qualia: o que sentimos como a vermelhidão da cor vermelha, a doçura de um doce, a sensação de dor que nos causa uma dor de dente. Esses filósofos acreditam que o enigma dos qualia não pode ser resolvido, nem sequer abordado, pela ciência, porque esses sentimentos são particulares e não podem ser comparados, aprendidos ou medidos por referências externas. Essa ideia, no entanto, contradiz o princípio geral de que a mente equivale ao cérebro, como Alcmeão de Crotona adiantou há 2.500 anos.
Se tudo o que acontece em nossa mente é produto de —ou melhor, é idêntico à— atividade de certos circuitos neurais, a consciência não pode ser uma exceção, ou então retornaríamos ao animismo irracional, à crença em uma alma separada do corpo, aos fantasmas e ectoplasmas. Crick e Koch decidiram pular o suposto enigma dos qualia para se concentrar em procurar os “correlatos neurais da consciência”, isto é, os circuitos mínimos suficientes para que se produza uma experiência consciente. A estratégia deu frutos.
Tomemos o efeito bem conhecido da rivalidade binocular. Com uma montagem simples, você pode apresentar uma imagem ao olho esquerdo de um voluntário (um retrato de Maria, por exemplo) e outra ao olho direito (um retrato de João). Você poderia pensar que o voluntário veria uma mistura chocante dos dois rostos, mas se você perguntar a ele, verá que não é assim. Ele vê Maria durante um momento, então de repente vê João, depois outra vez Maria e assim por diante. Os dois olhos rivalizam para fazer chegar suas informações à consciência (daí “rivalidade binocular”). O que muda no cérebro quando a consciência passa de um rosto ao outro?
Experimentos desse tipo, combinados com modernas técnicas de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional (fMRI), apontam repetidas vezes para a “zona quente posterior”. É composta por circuitos de três lobos (partes do córtex cerebral): o temporal (acima das orelhas), o parietal (logo acima do temporal, em todo o alto da cabeça) e o occipital (um pouco acima da nuca). Isso é em si uma surpresa, porque a maioria dos neurocientistas teria esperado encontrar consciência nos lobos frontais, a parte mais anterior do córtex cerebral e a que mais cresceu durante a evolução humana. Mas não é assim. A consciência reside em áreas posteriores do cérebro que compartilhamos com os mamíferos em geral.
Outra descoberta recente é que as áreas envolvidas na consciência —a zona quente posterior— não são as que recebem os sinais diretos dos olhos e dos demais sentidos. O que acontece nessas áreas primárias não é o que o sujeito vê, ou está consciente de ver. A consciência está em áreas que recebem, elaboram e interconectam essa informação primária, tanto na vista como nos outros sentidos.
Uma prática cirúrgica tradicional nos oferece mais pistas valiosas. Quando os neurocirurgiões têm de remover um tumor cerebral, ou os tecidos que causam ataques epilépticos muito graves, tomam uma precaução lógica: com o crânio aberto, estimulam as áreas vizinhas com eletrodos para ver exatamente onde estão no mapa do córtex, e até onde convém chegar (ou não chegar) com o bisturi. Foi assim, de fato, que foi mapeado o homúnculo motor, essa figura humana disforme que temos acima da orelha e que controla todos os nossos movimentos voluntários. Estimule aqui e o paciente move uma perna; estimule ali e moverá o dedo médio da mão esquerda, ou a língua e os lábios.
Quando a zona quente posterior é estimulada, o paciente experimenta todo um leque de sensações e sentimentos. Pode ver luzes brilhantes, rostos deformados e formas geométricas, ou sentir alucinações em qualquer modalidade sensorial, ou vontade de mexer um braço (mas desta vez sem chegar a movê-lo). Em sua forma normal, esse parece ser o material com o qual nossa consciência é tecida. Quando parte da zona quente é danificada por uma doença ou acidente, ou removida pelos cirurgiões, o paciente perde conteúdos da consciência. Torna-se incapaz de reconhecer o movimento de qualquer objeto ou pessoa, ou a cor das coisas, ou se lembrar de rostos que antes lhe eram familiares.
A neurociência, portanto, não apenas demonstrou a hipótese de Alcmeão de Crotona –que o cérebro é a sede da mente– mas também encontrou o lugar exato em que reside a consciência.
Entender como essa porção do cérebro funciona é uma questão muito mais difícil, que algum dia merecerá um Prêmio Nobel. Mas a mera localização da consciência na parte posterior do córtex cerebral tem uma clara implicação. A marca distintiva da evolução humana é o crescimento explosivo do córtex frontal. O córtex posterior, incluída a zona quente, nós herdamos dos nossos ancestrais mamíferos e além.Muitos animais, portanto, devem ser conscientes: eles têm uma mente no sentido de Alcmeão. É uma ideia perturbadora, mas teremos de aprender a viver com ela e a administrar suas implicações.
Compreender o cérebro é, sem dúvida, um dos maiores desafios que a ciência atual enfrenta. Trata-se do objeto mais complexo de que temos notícia no universo, e a tarefa é formidável. Mas a recompensa será grande para a pesquisa e o pensamento. Talvez não falte tanto para isso.