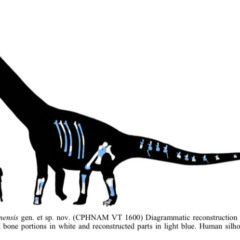Arlete Carvalho
Jornalista
No fim da década de sessenta, quando o tempo ainda parecia caminhar descalço pelas estradas de chão batido do sertão maranhense, morava dona Nega numa casa de barro batido e coberta de palha de babaçu, cercada por pés de mandioca, milho ralo e um quintal vivo de galinhas. Era uma senhora de cinquenta e tantos anos, negra retinta, pele escura como a terra molhada do baixão que ela tanto amava, cabelos longos e lisos, já rendidos pelo branco do tempo e presos num coque no alto da cabeça. Tinha o porte firme de quem aprendeu cedo a não se curvar, nem à seca, nem à memória dura da escravidão que ainda ecoava nas histórias da família.
Os antepassados haviam sido cativos, mas ela não carregava correntes invisíveis. Carregava chaves. Chaves de paiol, de casa, de roça. Orgulhava-se de ser dona de um pedaço de chão, pequeno, é verdade, mas suficiente para alimentar filhos, netos e esperanças. Ali se plantava de tudo um pouco: arroz que sustentava, feijão que fortalecia, milho que alegrava os bichos e as crianças, mandioca que virava farinha e garantia o amanhã. Havia gado magro, porcos inquietos, bodes teimosos e galinhas que anunciavam o dia antes mesmo do sol.
Casara-se cedo, quase menina, aos dezesseis anos, e a vida não esperou para lhe bater à porta. Vieram dez filhos, quatro homens e seis mulheres, todos criados entre o cheiro da terra e o som do vento seco. Entre uma gravidez e outra, dona Nega virou parteira. Suas mãos, firmes e quentes, trouxeram ao mundo crianças que hoje adultas lembram dela com mãe de parto, mãe de pegação. Ela conhecia o segredo do nascer, assim como conhecia o da espera.
O sertão, porém, é lugar de contraste. Assim como dá, tira. Os filhos cresceram, formaram suas famílias, mas as filhas enfrentavam um silêncio difícil: faltavam homens na região. A seca não levava apenas água, levava gente: os homens partiam em busca de trabalho e melhoria de vida em outros estados. Até que um dia, como quem surge do nada, apareceu Manoel, um caixeiro viajante, destes que carregam novidades nas malas e mistério no olhar. Ele se encantou por uma das moças de dona Nega, e o encanto foi-lhe devolvido sem medo por Luzia. Logo se falava em casamento.
Foi aí que o passado resolveu se sentar à mesa.
Vitorino, irmão de dona Nega, homem endurecido pelo tempo e pelas desconfianças, veio lhe falar num fim de tarde, quando o sol queimava baixo e a comida era pouca. Sentaram-se em bancos de madeira, e ele não rodeou palavras:
— Nega, tu vais deixar esse homem branco, que a gente não sabe de onde vem, se tem família, se presta, se misturar com tua filha? Um estranho entrando assim na nossa casa?
A família passava por dias difíceis. A seca castigava sem piedade. Naquele momento, dona Nega comia apenas um prato de arroz branco, sem gordura, sem feijão, sem carne. Arroz purinho, como se dizia. Ela mastigou devagar, sentiu o gosto simples, olhou o irmão e respondeu com uma calma que vinha de longe, de quem estava acostumada e sabia esperar:
— Por falta de uma mistura é que eu tô comendo este arroz assim, Vitorino. Branco, sozinho. Mas nem por isso deixa de matar a fome.
O irmão franziu o rosto, sem entender de imediato. Ela continuou:
— A gente passou a vida inteira aprendendo a desconfiar do que é novo do que vem de fora, do que não nos pertence… Foi assim que nos ensinaram. Mas também foi aceitando mudança que a gente chegou até aqui. Esse homem pode ser mistura. Pode não ser. Mas negar antes de conhecer é escolher continuar com o prato vazio.
Houve silêncio. O vento passou entre as folhas secas, como se concordasse. Dona Nega sabia que o orgulho da família não vinha da cor da pele apenas, nem da história de dor, mas da capacidade de permanecer de pé, de abrir a porta sem perder a dignidade. Eram negros, eram donos de terra, eram produtores do próprio sustento. Isso bastava.
Naquela noite, as estrelas pareciam mais próximas. Talvez porque esperança também ilumina. Dona Nega acreditava que viver era isso: aceitar o que chega, sem esquecer quem se é. Misturar o arroz quando possível, mas nunca recusar o alimento da vida por medo do desconhecido. E assim, entre a rejeição e a aceitação, ela ensinava, sem saber, uma filosofia simples e profunda: quem só come o que conhece, morre de fome diante de um prato estranho aos olhos, mas com ingredientes que podem se revelar um paladar maravilhoso.
Ah, Manoel e Luzia se misturam e são muito felizes!